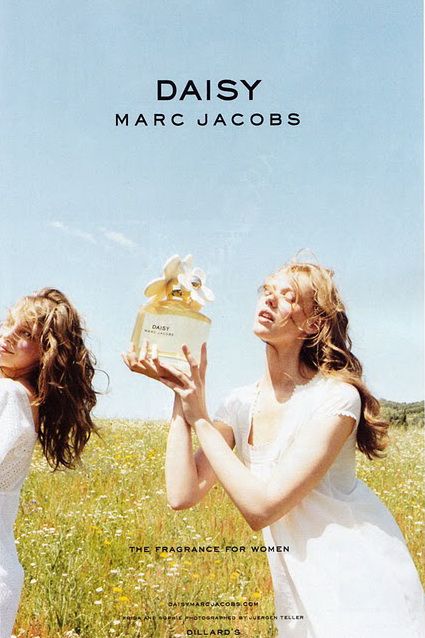Nas duas últimas semanas de julho, resolvi reler o romance de não ficção que levou a poeta norte-americana Patti Smith — leia-se aqui, minha estrela guia — a vencer o National Book Award (2010). Este é um dos reconhecimentos mais relevantes da literatura de língua inglesa, ainda que Smith, no auge de seus quase 79 anos, nada mais precise provar. Parece-me, inclusive, que sempre se esforçou nestas cinco décadas de vida pública para diferenciar o que é evidência por mérito e o que é exibicionismo.
Quando nos encontramos em São Paulo, seis anos antes e às vésperas de uma pandemia, falamos rapidamente sobre se manter firmes, comprometidos com nossos sonhos. À ocasião, vi quando ela esticou sua caligrafia em um pedaço de papel, formando a frase “People have the power”. Era sintomático. Haja vista, defendo a ideia de que, de tempos em tempos, certas obras devem ser revisitadas. É o caso do álbum Dream of life (1988), um retrato perfeito da utopia pós-guerras, e do já mencionado livro, que projetou sua literatura mundo afora, inclusive no Brasil, onde ganhou uma excelente tradução por Alexandre Barbosa de Souza.
Enquanto seres, somos falhos até na memória, construída sobre superfícies que, não ironicamente, revelam-se porosas, formando um processo lento de absorção das avalanches que cruzam nossos caminhos: nomes, datas, cheiros, lugares e percepções cambiantes, também formadoras de uma amálgama de referências que mais funciona como uma colcha de retalhos, tal qual as que uma vizinha de minha avó materna costumava fazer no interior goiano, com pouco senso estético. Somos assim mesmo, um apanhado de coisas que podem ou não fazer sentido.
Foi de um lugar ermo e incolor, a propósito, que Smith e eu saímos, em uma coincidência tanto feliz quanto também universal. Quando conheci sua obra, por intermédio de uma amiga, a cineasta Uliane Tatit, entendi o que a autora gostaria de dizer com a ideia de “atender ao chamado”. Em seu caso, o primeiro deles era o do amigo, o fotógrafo e ex-namorado Robert Mapplethorpe. Ele morreria por complicações do vírus da AIDS um pouco depois, mas não sem antes pedir que escrevesse sobre a história de ambos. Não cronologicamente, ao encontrar-se na poesia rimbaudiana ainda adolescente, ela atenderia ainda aos sussurros da arte, criando a fusão de poesia e punk que poucos souberam executar tão bem e de forma tão coerente, inclusive do ponto de vista político. Basta ouvir faixas como “Radio Baghdad” (2004) e ler suas postagens sobre o genocídio palestino para entender.
Nesse sentido, Só garotos me parece ir além. Quando narra sua história com Robert, é bem verdade que, mesmo com camadas generosas de romantização, Smith abre caminho para entendermos que tudo o que ela e o amigo fizeram foi confiar. Em si mesmos, em seus respectivos projetos, em um futuro onde haveria abundância e, sobretudo, segurança — coisas tão nobres quanto fundamentais em contextos de extrema desesperança, como a Nova York do fim dos anos 1960.
Quando tive nas mãos pela primeira vez um exemplar de Só garotos, aos 18 anos, busquei respostas para o naufrágio de um amor, para o desejo de me encontrar em um entorno de natureza rigidamente protocolar e para o pouco entusiasmo geral em relação àquilo que cada vez mais me mobilizava. Hoje, quase com a mesma idade que ela tinha ao lançar Horses (1975) e às vésperas da estreia de Bread of angels (suas memórias definitivas, previstas para o mês de novembro e ainda sem tradução para o português), sei que pude entendê-la de formas ainda mais satisfatórias, mais maduras.
Daqui a dez anos, talvez eu seja uma outra pessoa e faça uma outra leitura. Em outros dez, o processo se repetirá, formando uma espiral. A única certeza ao mergulhar em Patti Smith é a de que com ela nos abrimos para um despertar permanente, onde as devoções são certeiras, se direcionadas para o que pode nos mover em direção ao futuro — que acaba de chegar.